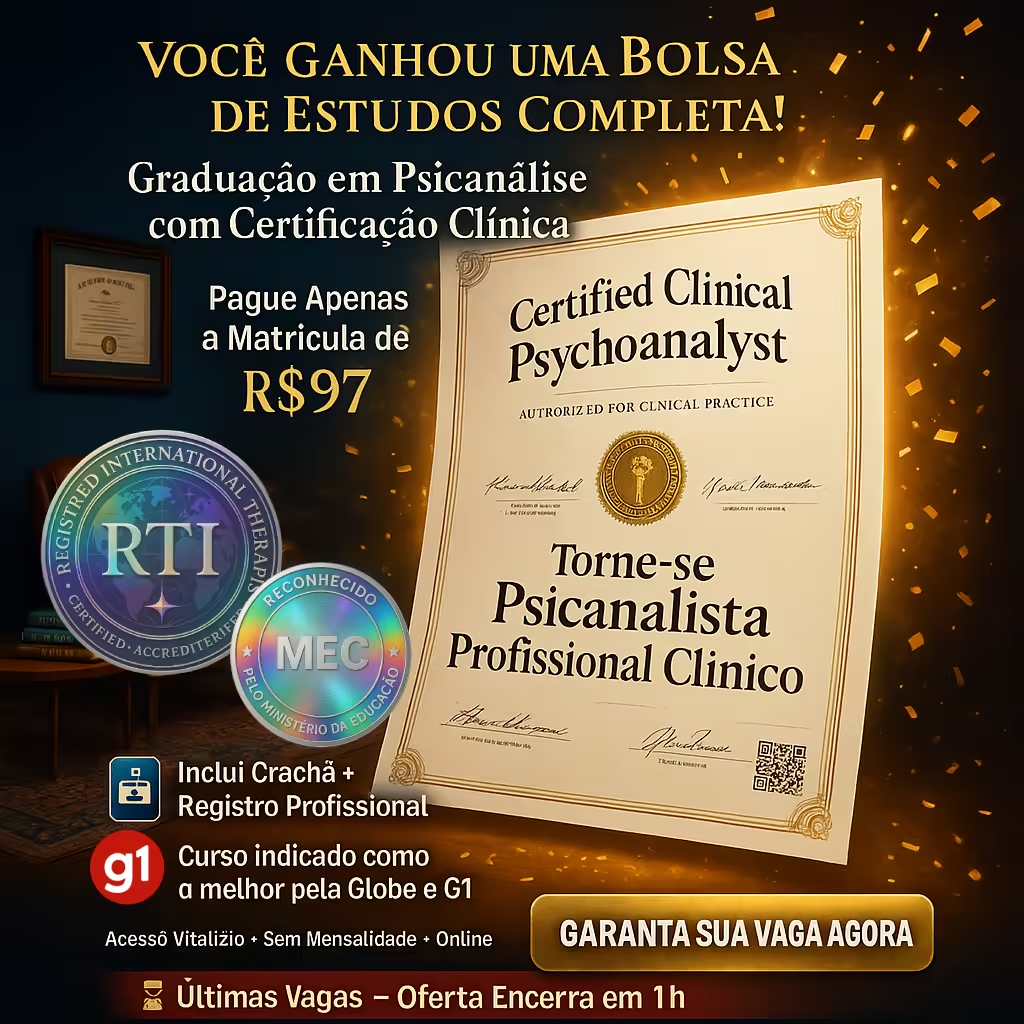Introdução
Os traumas familiares representam feridas invisíveis que afetam profundamente o desenvolvimento emocional e social dos indivíduos, com repercussões que ultrapassam o ambiente doméstico e alcançam toda a sociedade. Como destacado na aula “O Papel da Sociedade diante das situações de traumas familiares”, estamos diante de um cenário alarmante no que tange à saúde mental da população, especialmente dos jovens: “de 10 a 15 por cento dos nossos jovens estudantes estão comprometidos em termos de saúde mental”. Esse dado revela não apenas um problema individual, mas um desafio coletivo que demanda respostas articuladas entre família, sociedade e Estado.
A perspectiva psicanalítica nos ensina que os traumas não elaborados tendem a se perpetuar através das gerações, criando ciclos de sofrimento que comprometem a qualidade de vida e o potencial de desenvolvimento dos indivíduos. Entretanto, para além do olhar clínico individual, é fundamental reconhecer que as famílias em situação de vulnerabilidade frequentemente não conseguem, por si sós, romper estes ciclos: “As famílias vítimas dessa realidade, elas não conseguem sair desse poço sozinhas”. Portanto, é necessário um olhar que articule a dimensão subjetiva do trauma com as condições sociais, econômicas e políticas que os sustentam ou agravam.
Este artigo propõe uma reflexão aprofundada sobre o papel da sociedade na prevenção e tratamento dos traumas familiares, articulando a perspectiva psicanalítica com uma análise das políticas públicas existentes e necessárias. Busca-se compreender como as desigualdades estruturais impactam a saúde mental das famílias e como diferentes configurações familiares contemporâneas enfrentam desafios específicos, exigindo abordagens diversificadas para seu acolhimento e cuidado.
A Saúde Mental como Questão Social
Para Além do Individual: A Dimensão Coletiva do Sofrimento Psíquico
A compreensão tradicional dos problemas de saúde mental frequentemente os restringe à esfera individual, como se fossem apenas questões privadas a serem resolvidas no contexto familiar ou clínico. Entretanto, pesquisas recentes e a própria prática clínica demonstram que os traumas e sofrimentos psíquicos estão profundamente entrelaçados com fatores sociais, econômicos e culturais.
De acordo com o Ministério da Saúde do Brasil, “a realidade social, econômica, política, cultural e ambiental impacta diretamente na saúde mental da população, não sendo um problema meramente individual” (Brasil, 2025). Esta perspectiva amplia nossa compreensão, reconhecendo que “os problemas de saúde mental resultam da coletividade, demandando políticas públicas, redes de proteção, melhores condições de vida, segurança alimentar e suporte comunitário”.
A metáfora dos “vasos comunicantes” entre casa, escola e rua, mencionada na aula, ilustra perfeitamente esta interconexão: “o que acontece em casa eu levo pra rua, o que acontece na rua eu levo pra casa, o que acontece na escola eu levo pra casa e levo pra rua”. Não existem compartimentos estanques quando falamos de saúde mental – os ambientes se influenciam mutuamente, e o sofrimento circula entre eles.
O Impacto das Desigualdades Estruturais na Saúde Mental das Famílias
As desigualdades estruturais representam um dos fatores mais determinantes para o surgimento e agravamento de traumas familiares. A pobreza, a falta de acesso a serviços básicos, o desemprego e a violência urbana criam um ambiente propício para o desenvolvimento de condições adversas que comprometem a capacidade das famílias de fornecerem um ambiente seguro e estável para seus membros.
Petrini (2003) afirma que “à medida que a família encontra dificuldades para cumprir satisfatoriamente suas tarefas básicas de socialização e de amparo/serviços aos seus membros, criam-se situações de vulnerabilidade”. Em contextos de extrema pobreza, como relatado na experiência da visita à favela mencionada na aula, onde uma mãe utilizou “água suja” para preparar café aos visitantes, observamos como as condições materiais precárias afetam a dignidade e as possibilidades de cuidado adequado.
A situação socioeconômica, portanto, não é apenas um fator contextual, mas um elemento central que determina as possibilidades de desenvolvimento saudável e de superação de traumas. Como aponta a literatura especializada, “a vida familiar para ser efetiva e eficaz depende de condições para sua sustentação e manutenção de seus vínculos” (Gomes & Pereira, 2005).
Tipologia das Famílias Contemporâneas e Vulnerabilidades Específicas
Diversidade de Configurações Familiares no Século XXI
O conceito tradicional de família nuclear (pai, mãe e filhos) tem dado lugar a uma pluralidade de arranjos familiares que refletem as transformações sociais, culturais e econômicas das últimas décadas. Esta diversidade exige um olhar atento às necessidades específicas de cada configuração familiar, reconhecendo suas potencialidades e vulnerabilidades particulares.
A aula apresenta uma tipologia detalhada das famílias contemporâneas, que podemos sintetizar da seguinte forma:
- Família Nuclear Tradicional: Composta por pai, mãe e filhos, ainda presente em nossa sociedade, mas “cada vez mais desafiada” pelas transformações nas relações de gênero e trabalho.
- Família Monoparental: Formada por um dos pais com seus filhos, resultado de separações, viuvez ou escolha individual. Esta configuração frequentemente enfrenta “sobrecarga emocional e financeira” que recai sobre a figura parental.
- Família Recomposta/Reconstituída: Formada quando casais divorciados se unem e formam um novo núcleo familiar com filhos de relações anteriores, implicando em “reconfigurações complexas de lealdade, autoridade e afeto”.
- Família Homoafetiva: Constituída por casais do mesmo sexo, com ou sem filhos, que frequentemente enfrentam preconceito institucional e social, apesar dos avanços legais.
- Família Adotiva: Envolve a afiliação por adoção, “muitas vezes rompendo laços biológicos, mas reforçando vínculos afetivos e legais”.
- Família Ampliada: Inclui avós, tios, primos ou outros parentes que convivem sob o mesmo teto e assumem funções parentais.
- Família por Escolha: Formada por amigos íntimos que assumem laços afetivos e de cuidado mútuo, comum entre pessoas LGBTQIA+ e idosos sem filhos.
- Família Solo por Opção: Pessoa que decide criar filhos sem parceiro, por meio de inseminação artificial, adoção ou outras vias.
- Família Transnacional: Membros que vivem em países diferentes, mantendo vínculos afetivos e apoio financeiro à distância.
- Família com Múltiplos Cuidadores: Arranjos nos quais professores, terapeutas, padrinhos e outros adultos compartilham a criação das crianças.
Vulnerabilidades Específicas e Abordagens Diferenciadas
Cada configuração familiar enfrenta desafios específicos que podem intensificar vulnerabilidades e potencializar traumas. As famílias monoparentais, por exemplo, especialmente as chefiadas por mulheres, frequentemente enfrentam maior precariedade econômica e sobrecarga de funções. Segundo pesquisas recentes, a vulnerabilidade das famílias monoparentais femininas é intensificada por marcadores interseccionais como raça, classe e gênero, demandando políticas públicas específicas para seu acolhimento e proteção.
As famílias recompostas, por sua vez, enfrentam o desafio de estabelecer novos vínculos e redefinir papéis parentais, o que pode gerar conflitos de lealdade e dificuldades de adaptação para crianças e adolescentes. Já as famílias homoafetivas frequentemente lidam com o estresse adicional do preconceito social, que pode afetar a saúde mental de todos os membros.
A tipologia apresentada na aula nos convida a reconhecer que não existe um modelo único de família “saudável” ou “funcional”. Pelo contrário, cada configuração familiar pode proporcionar um ambiente acolhedor e promotor de desenvolvimento, desde que conte com recursos internos e externos adequados. Como mencionado na aula, o importante é que as relações familiares sejam baseadas na “horizontalidade, dentro de afetos trocados, de cuidados trocados, de respeito e de diálogos afetivos, não de relações impositivas autoritárias”.
O Caso Davi: Um Exemplo da Necessidade de Intervenção Social
O caso de Davi, apresentado na aula, ilustra de forma contundente como os traumas familiares não podem ser abordados apenas na perspectiva individual. Davi, um adolescente de 13 anos encaminhado à análise por problemas de comportamento na escola, vivia com a avó, tinha o pai preso e a mãe desaparecida pelo tráfico. Na clínica, ele não falava, apenas desenhava “casas sem telhado, com figuras ausentes” – uma representação simbólica poderosa de sua própria experiência de desamparo.
Este caso evidencia que “a violência não era só sua. Era o que restava quando as instituições que deveriam protegê-lo – escola, saúde e justiça – falhavam em nomeá-lo como sujeito”. Em outras palavras, o comportamento agressivo de Davi era uma resposta a uma violência estrutural prévia, um sintoma de um sistema que falhou em protegê-lo e reconhecê-lo em sua humanidade.
A intervenção bem-sucedida no caso de Davi não se limitou ao setting terapêutico tradicional. Foi necessário “convocar a escola ao diálogo, ativar a rede de saúde e olhar o território”. O resultado positivo começou a aparecer quando “o social se implicou na escuta” e Davi pôde “ser ouvido fora do consultório”. Este caso exemplifica o princípio fundamental de que “não basta tratar o sujeito, é preciso intervir no simbólico que o cerca”.
O caso de Davi nos ensina que a abordagem dos traumas familiares requer uma visão ecológica, que considere o indivíduo em seus múltiplos contextos de desenvolvimento. A terapia individual, embora importante, representa apenas “uma ponte”, sendo necessário que “a sociedade assuma sua função estruturante”. Como sintetiza a aula: “Prevenir, afinal, é também não abandonar”.
Políticas Públicas e Redes de Suporte às Famílias em Situação de Trauma
Mapeamento das Políticas Públicas Existentes
O Brasil conta com diversas políticas públicas voltadas para a proteção e o cuidado de famílias em situação de vulnerabilidade e trauma. Na aula, são apresentadas dez iniciativas fundamentais que compõem a rede de proteção social:
- CREAS (Centro de Referência Especializado em Assistência Social): Atende famílias e indivíduos em situação de violência, negligência, abuso sexual, abandono ou rompimento de vínculo, oferecendo acompanhamento psicossocial e articulação com o sistema de justiça.
- PAIF (Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família): Integrado ao CRAS, atua na prevenção de rupturas de laços familiares por meio de escuta, visitas domiciliares e grupos de convivência.
- Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher e da Criança: Oferece apoio desde o pré-natal até os dois anos do bebê, com foco em famílias que enfrentam traumas perinatais ou violência obstétrica.
- Conselhos Tutelares: Atuam na defesa dos direitos da criança e do adolescente, especialmente quando a família é fonte de negligência ou violência.
- Serviço de Psicologia nos CAPS Infantil e CAPS AD: Acolhe famílias que vivenciam traumas relacionados à dependência química ou transtornos mentais.
- Programa Bolsa Família: Além da transferência de renda, promove o acesso das famílias a escolas e serviços de saúde, funcionando como política preventiva de rupturas sociais e familiares.
- Patrulha Maria da Penha: Política pública de enfrentamento à violência doméstica, com acompanhamento de mulheres vítimas e seus filhos.
- Programa Família Acolhedora: Alternativa ao acolhimento institucional de crianças vítimas de violência, inserindo-as temporariamente em famílias capacitadas.
- Juizados da Infância e Juventude com Escuta Qualificada: Realiza mediação e escuta protegida de crianças e adolescentes em processos de guarda, violência ou adoção.
- Programa Nacional de Mediação Familiar CNJ: Voltado para casais em processo de separação, atua na reconstrução de pactos parentais e evita que o conflito conjugal se converta em trauma infantil.
Estas políticas representam avanços significativos no reconhecimento da responsabilidade social e estatal no cuidado às famílias em situação de vulnerabilidade. No entanto, é fundamental avaliar criticamente sua implementação, abrangência e efetividade.
Desafios e Limitações das Políticas Públicas Atuais
Apesar dos avanços representados pelas políticas públicas existentes, ainda há lacunas importantes a serem preenchidas. Uma análise crítica revela desafios como:
- Cobertura insuficiente: Muitas regiões, especialmente as mais vulneráveis, não contam com serviços adequados ou suficientes para atender à demanda.
- Fragmentação das ações: Frequentemente, os serviços funcionam de forma desarticulada, sem a necessária integração que permitiria um cuidado mais efetivo.
- Foco no indivíduo e não na família: Apesar dos avanços, muitas políticas ainda abordam problemas específicos sem considerar adequadamente o contexto familiar como um todo.
- Subfinanciamento: Recursos insuficientes comprometem a qualidade e a continuidade das ações.
- Formação inadequada dos profissionais: Muitos profissionais que atuam na rede de proteção não possuem formação específica para lidar com traumas familiares na perspectiva sistêmica.
A efetividade das políticas públicas também é limitada pela “naturalização” dos traumas e pela invisibilidade de certas formas de sofrimento. Como mencionado na aula: “de tanto acontecer coisas erradas, traumáticas, pequenas, médias ou grandes em minha casa, eu me acostumo. E já não me dou conta. Parece ser normal”. Esta normalização do sofrimento representa um obstáculo significativo à busca por ajuda e ao reconhecimento da necessidade de intervenção.
Propostas para o Fortalecimento da Rede de Proteção
Para superar os desafios identificados e fortalecer a rede de proteção às famílias em situação de trauma, algumas propostas podem ser consideradas:
- Integração efetiva dos serviços: Criar mecanismos de articulação entre os diferentes serviços e políticas, com fluxos claros de encaminhamento e acompanhamento conjunto dos casos.
- Ampliação da cobertura territorial: Garantir que os serviços de proteção estejam acessíveis a todas as famílias, independentemente de sua localização geográfica.
- Formação continuada dos profissionais: Investir na capacitação dos profissionais que atuam na rede de proteção, com ênfase na abordagem de traumas familiares e na perspectiva sistêmica.
- Participação comunitária: Envolver a comunidade no planejamento, implementação e avaliação das políticas públicas, reconhecendo seus saberes e potencialidades.
- Avaliação sistemática e aprimoramento contínuo: Estabelecer mecanismos de monitoramento e avaliação das políticas públicas, com base em indicadores claros e participação dos usuários.
- Abordagem interseccional: Reconhecer e abordar as múltiplas formas de opressão e vulnerabilidade que afetam as famílias, considerando marcadores como raça, classe, gênero e orientação sexual.
Como destaca a reflexão final da aula, “não basta que sejamos bons isolados… é preciso organizar os bons em benefício daqueles que precisam”. Esta organização coletiva, que articula Estado, profissionais e sociedade civil, é fundamental para a construção de respostas efetivas aos traumas familiares.
A Perspectiva Winnicottiana e a “Mãe Suficientemente Boa”
O Conceito de “Mãe Suficientemente Boa” como Referencial Teórico
A aula destaca que o fio condutor das reflexões sobre traumas familiares é o conceito winnicottiano da “mãe suficientemente boa”. Donald Winnicott, pediatra e psicanalista britânico, desenvolveu este conceito para descrever a qualidade do cuidado materno necessário ao desenvolvimento saudável da criança: “nem boa demais porque estraga, nem ruim demais porque também estraga”.
Esta concepção revolucionou a compreensão do desenvolvimento emocional ao reconhecer que o cuidado parental ideal não é perfeito, mas adequado às necessidades da criança em cada fase. A “mãe suficientemente boa” é aquela que se adapta ativamente às necessidades do bebê no início, permitindo gradualmente frustrações à medida que a criança desenvolve capacidade para lidar com elas.
Transpondo este conceito para o campo social, podemos pensar na sociedade como um ambiente que deve ser “suficientemente bom” para as famílias: nem invasivo a ponto de substituir suas funções e autonomia, nem ausente a ponto de abandoná-las à própria sorte quando enfrentam dificuldades. Uma sociedade “suficientemente boa” oferece holding (sustentação) às famílias, permitindo que elas desenvolvam seus próprios recursos e potencialidades.
A Gestação Psíquica como Metáfora do Cuidado Social
Na aula, a gestação biológica é comparada à gestação psíquica, estabelecendo uma metáfora poderosa para compreender o papel da sociedade no cuidado às famílias: “essa experiência da maternidade, essa experiência da gestação biológica, comparamos com a gestação psíquica. Justamente aí os traumas têm sentido, tem um contexto para serem refletidos e serem abordados”.
Assim como o útero materno proporciona um ambiente seguro e nutritivo para o desenvolvimento do feto, a sociedade deve proporcionar condições adequadas para o desenvolvimento das famílias. Isso inclui não apenas recursos materiais, mas também um ambiente simbólico de reconhecimento, respeito e cuidado.
A obra de arte “Young Mother Sewing” de Mary Cassatt, mencionada na aula, ilustra essa dimensão do cuidado: “o que nos chama a atenção é a presença desta mãe e a ternura que este quadro nos provoca”. O trabalho doméstico, frequentemente desvalorizado, é “emoldurado por uma relação de presença e ternura”, revelando a dimensão afetiva do cuidado cotidiano.
Estratégias Comunitárias e Círculos de Escuta
O Valor dos Espaços Coletivos de Acolhimento
Para além das políticas públicas formais, a aula destaca a importância de iniciativas comunitárias como “círculos de escuta, centros culturais, recreativos, esportivos, culturais, creches, holding coletivo”. Estes espaços representam formas de suporte social que complementam a rede formal de serviços, muitas vezes alcançando famílias que não acessam ou não confiam nas instituições oficiais.
Os círculos de escuta, em particular, oferecem um espaço seguro para a expressão e elaboração de experiências traumáticas, baseados no princípio de que “a dor quando não é verbalizada, não é transformada em palavra, ela se transforma em comportamento”. Ao proporcionar oportunidades para nomear e compartilhar o sofrimento, estes espaços contribuem para prevenir sua manifestação através de sintomas e comportamentos disfuncionais.
O exemplo do professor Keating do filme “Sociedade dos Poetas Mortos”, mencionado na aula, ilustra como a criação de espaços de expressão pode ser transformadora: “o professor Kirin criou um espaço de expressão onde antes havia silêncio e rigidez. A escuta sensível impede que o isolamento psíquico se transforme em trauma”.
A Cultura como Recurso Terapêutico
A dimensão cultural emerge na aula como um recurso fundamental para a prevenção e tratamento dos traumas familiares: “Quando nós pensamos em cultura, na perspectiva dos traumas familiares, nós temos que pensar numa saúde mental onde a cultura seja produtiva, onde a cultura ela possa gerar ações concretas de cuidado, de olhar e de atenção”.
A cultura, em suas diversas manifestações (arte, literatura, música, esporte), pode funcionar como um mediador simbólico que permite a expressão e elaboração de experiências traumáticas. Além disso, atividades culturais e esportivas promovem o fortalecimento de vínculos comunitários, a construção de identidades positivas e o desenvolvimento de habilidades socioemocionais.
Centros culturais e esportivos em comunidades vulneráveis representam, portanto, não apenas espaços de lazer, mas verdadeiros dispositivos de promoção de saúde mental e prevenção de traumas. Como afirma a Organização Mundial da Saúde, a saúde mental não se limita à ausência de transtornos mentais, mas engloba o bem-estar subjetivo, a autonomia, a competência e a capacidade de realizar o próprio potencial intelectual e emocional.
Conclusão: Por uma Ética do Cuidado Coletivo
A análise desenvolvida ao longo deste artigo evidencia que a prevenção e o tratamento dos traumas familiares não podem ser responsabilidade exclusiva das famílias ou dos profissionais de saúde mental. É necessária uma abordagem coletiva, que reconheça a dimensão social do sofrimento psíquico e mobilize recursos comunitários, institucionais e políticos para seu enfrentamento.
Como destaca a frase final da aula, inspirada em Kennedy: “Não basta que sejamos bons isolados… é preciso organizar os bons em benefício daqueles que precisam”. Esta organização coletiva implica na construção de uma ética do cuidado que valorize a interdependência humana e reconheça a vulnerabilidade como uma condição universal, não como um defeito individual.
Para “esticar as mãos, esticar os olhares”, como propõe a aula, é necessário desenvolver sensibilidade para reconhecer o sofrimento mesmo quando ele não se manifesta explicitamente. É preciso estar atento às “feridas invisíveis” e aos “momentos silenciados” que marcam a experiência de tantas famílias.
O desafio que se coloca para profissionais, gestores públicos e cidadãos é construir uma sociedade que funcione como um ambiente suficientemente bom para todas as famílias, independentemente de sua configuração ou condição socioeconômica. Uma sociedade que ofereça não apenas recursos materiais, mas também reconhecimento, respeito e oportunidades de desenvolvimento.
Como nos ensina o caso de Davi, a transformação começa quando reconhecemos o outro como sujeito, com sua história, suas dores e suas potencialidades. Quando nos implicamos na escuta e assumimos nossa responsabilidade coletiva no cuidado. Quando compreendemos, enfim, que “prevenir é também não abandonar”.
Referências
Brasil. Ministério da Saúde. (2025). Saúde Mental. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/saude-mental
Caldas de Almeida, J. M. (2019). Política de saúde mental no Brasil: o que está em jogo nas mudanças em curso. Cadernos de Saúde Pública, 35(11).
Cassatt, M. (1900). Young Mother Sewing [Pintura].
Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the intersection of race and sex: A black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics. University of Chicago Legal Forum, 1989(1), 139-167.
Finemann, M. (2010). The vulnerable subject and the responsive state. Emory Law Journal, 60(2), 251-275.
Gomes, M. A., & Pereira, M. L. D. (2005). Família em situação de vulnerabilidade social: uma questão de políticas públicas. Ciência & Saúde Coletiva, 10(2), 357-363.
Matijasevich, A. et al. (2024). Estudo sobre a ligação entre traumas na infância e transtornos psiquiátricos na adolescência. Universidade de São Paulo.
Petrini, J. C. (2003). Pós-modernidade e família: um itinerário de compreensão. EDUSC.
Prati, L. E., Couto, M. C. P. P., & Koller, S. H. (2009). Famílias em vulnerabilidade social: rastreamento de termos utilizados por terapeutas de família. Psicologia: Teoria e Pesquisa, 25(3), 403-408.
Rembrandt. (1669). Self Portrait at the age of 63 [Pintura].
Singly, F. (2007). Sociologia da família contemporânea. Rio de Janeiro: Editora FGV.
Winnicott, D. W. (1975). O brincar e a realidade. Rio de Janeiro: Imago.