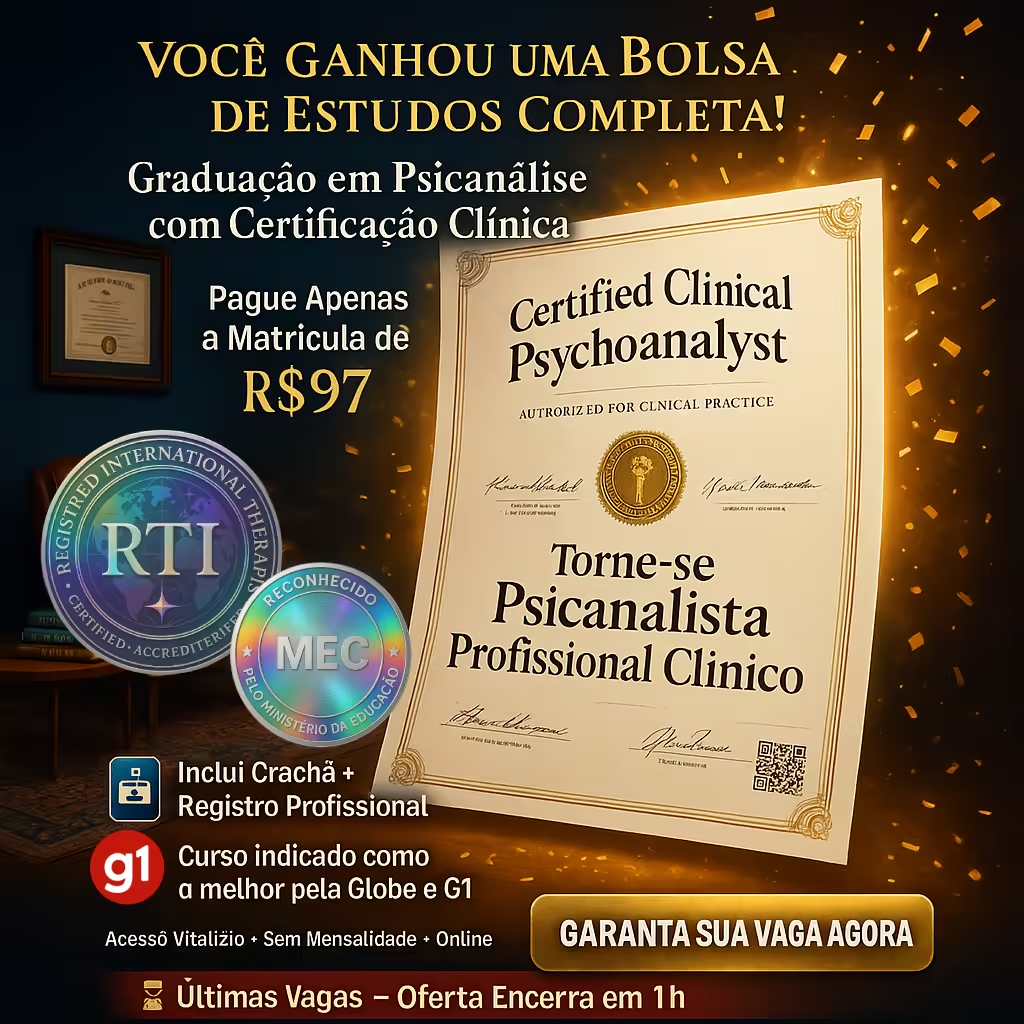Iniciamos a travessia pelo denso e fascinante território onde a psicanálise e a religião se encontram, não para reviver velhos antagonismos, mas para forjar ferramentas capazes de diagnosticar o presente. O ponto de partida de nossa jornada, como delineado no primeiro módulo do curso, é uma tese audaciosa: o mal-estar que nos aflige no século XXI sofreu uma profunda mutação. Já não sofremos primariamente, como na Viena de Freud, sob o peso da repressão de nossas pulsões por uma lei paterna severa, gerando culpa. Hoje, nosso sofrimento deriva de um novo e tirânico imperativo, o da performance, e seu afeto correspondente não é a culpa pela transgressão, mas a vergonha e a inadequação por não sermos bem-sucedidos, felizes e otimizados o bastante.
Este artigo propõe-se a desdobrar este diagnóstico em duas partes, seguindo a lógica dos dois primeiros capítulos do curso. Primeiramente, analisaremos as causas e as características deste novo mal-estar, explorando como o “colapso da função paterna” nos deixou como uma “sociedade sem bússola”, fomentando uma subjetividade narcísica marcada por um profundo desamparo. Em seguida, mergulharemos na dimensão afetiva desta nova condição, compreendendo a epidemia contemporânea de depressão não como uma falha neuroquímica individual, mas como um sintoma da cultura: uma “melancolia social”, fruto de um “luto impossível” pela perda das grandes promessas que antes davam sentido à existência e impulsionavam o desejo para o futuro.
1. A Tirania da Performance: O Novo Mal-Estar e o Sujeito Órfão
A chave de leitura para o sofrimento contemporâneo é a de uma mudança radical na forma como o sujeito se constitui e adoece. A análise de psicanalistas como Joel Birman nos ajuda a mapear essa transformação.
- Da Culpa à Vergonha: Na sociedade clássica, estruturada por uma autoridade vertical e por proibições claras (a “lei do Pai”), o sofrimento neurótico típico era a culpa. O sujeito sofria por ter desejado ou transgredido a lei. Na pós-modernidade, com o declínio dessas grandes narrativas de amparo — sejam elas religiosas, políticas ou científicas —, a lei se enfraquece. Em seu lugar, surge um ideal de performance ilimitada. O novo mandamento social não é “Não farás”, mas “Tu deves!”. Deves ser feliz, deves ter sucesso, deves otimizar teu corpo, tua mente, tua carreira. O sofrimento, então, não nasce mais do conflito com uma proibição, mas da vergonha por não conseguir atingir este ideal infinito e inalcançável. Somos uma sociedade de sujeitos cronicamente insuficientes.
- A Subjetividade Narcísica e o Desamparo: O “colapso do Outro simbólico”, essa instância que antes garantia um lugar e um sentido no mundo, deixou o sujeito moderno “órfão”. Sem essa referência externa, ele é lançado em uma busca desesperada por construir e validar a si mesmo a partir de sua própria imagem. Isso fomenta uma subjetividade narcísica, inteiramente voltada para a performance e para a validação externa, especialmente através das redes sociais, onde o corpo se torna um “espetáculo”. Contudo, este narcisismo é frágil. Por trás da fachada de autoconfiança, ele é marcado por um profundo desamparo existencial. A liberdade total, sem o amparo da lei, converte-se em angústia, e a necessidade de validação constante gera uma precariedade e uma liquidez identitária avassaladoras.
- O Consumo de Espiritualidades: É neste solo de desamparo que florescem as “novas buscas espirituais”. Mindfulness, coaching, terapias de bem-estar, entre outras, surgem como uma resposta a este vazio de sentido. Embora muitas dessas práticas ofereçam alívio genuíno, a análise crítica revela que, frequentemente, elas operam sob a mesma lógica do mercado que gera o adoecimento. Oferecem soluções rápidas, individualistas e focadas na otimização da performance, tornando-se mais um produto a ser consumido. A espiritualidade, neste contexto, corre o risco de ser um “remédio que é parte da própria doença”, um paliativo que mascara a angústia sem jamais elaborar suas causas estruturais. A psicanálise, em contrapartida, surge como um espaço de resistência, um lugar de escuta que permite ao sujeito questionar os próprios mandatos dos novos deuses, em vez de buscar formas mais eficientes de servi-los.
2. A Herança da Morte de Deus: Depressão como Melancolia Social
Se a performance e a insuficiência definem a forma do novo mal-estar, a depressão é seu conteúdo afetivo mais profundo. O segundo capítulo do curso nos convida a ler a epidemia de transtornos de humor não como uma questão primariamente individual, mas como o sintoma paradigmático de nossa cultura.
- O Luto Impossível e a Lógica da Melancolia: A psicanálise, com Maria Rita Kehl, posiciona a depressão contemporânea no campo da melancolia. O luto é o trabalho psíquico que realizamos pela perda de um objeto de amor concreto. A melancolia, por sua vez, é um luto que não pode ser feito, muitas vezes porque o objeto perdido é abstrato, difuso ou sequer reconhecido como perdido. A tese é que a secularização e a “morte de Deus” implicaram a perda de um objeto abstrato fundamental: a promessa de salvação e de um sentido último para a vida. Como não se pode fazer um luto convencional por algo tão vasto, a dor e a agressividade resultantes da perda, em vez de se dirigirem ao exterior, voltam-se contra o próprio Eu. Isso gera a autoacusação, o sentimento de culpa difuso e a perda de autoestima tão característicos dos estados melancólicos.
- O Tempo Morto e o Colapso do Desejo: A consequência afetiva desta perda não elaborada é a experiência de um “tempo morto”. O desejo, para a psicanálise, é o motor psíquico que nos projeta em direção ao futuro; ele é movimento, aposta, antecipação. As grandes narrativas, ao oferecerem um “futuro redentor” (seja o paraíso, a utopia comunista ou o progresso científico), puxavam a vida para a frente, dando um sentido ao presente. Com o colapso desses ideais, o futuro perde sua força de atração. O presente se torna uma repetição estagnada, um eterno agora sem promessa. O resultado é o colapso do desejo, que se manifesta clinicamente como a apatia e a anedonia (a incapacidade de sentir prazer) típicas da depressão. O sujeito, como em uma “greve do desejo”, se recusa a investir em um mundo que já não parece digno de seu investimento.
3. A Gestão Neoliberal do Sofrimento e a Via Psicanalítica
A cultura neoliberal agrava esta condição melancólica de duas formas. Primeiro, pela individualização do fracasso: a estrutura social que gera o desamparo é ocultada, e a vítima é culpada por sua própria tristeza (“Você não se esforça o suficiente para ser feliz”). Segundo, pela medicalização da tristeza, que trata o sintoma como uma falha química, silenciando a potente crítica social que a melancolia contém.
A via psicanalítica propõe um caminho radicalmente diferente. Em vez de silenciar ou culpar, ela oferece um espaço para a elaboração desse luto histórico. A travessia analítica torna-se o lugar onde o sujeito pode, talvez pela primeira vez, falar sobre essa perda de sentido, sobre o colapso dos ideais, sobre a paralisia de seu desejo. O objetivo não é recuperar uma fé perdida ou encontrar uma nova utopia, mas transformar a paralisia em uma “nova e mais modesta forma de desejar em um mundo sem garantias”. É um trabalho de luto que, ao permitir que a dor pela perda dos grandes ideais seja finalmente reconhecida e falada, libera o sujeito para se conectar com os pequenos, mas potentes, desejos que podem reanimar a experiência do presente.
Conclusão: Da Performance à Palavra
O diagnóstico apresentado nos dois primeiros capítulos do curso é sombrio, mas necessário. Ele nos revela como sujeitos órfãos, jogados em uma gaiola de aceleração e performance, condenados a construir uma identidade narcísica sobre o abismo de um profundo desamparo existencial, cujo afeto predominante é a melancolia de um futuro que perdeu seu encanto.
Compreender esta mutação do sofrimento é a condição indispensável para qualquer prática de cuidado no século XXI. É o que nos permite escutar, por trás da queixa de insuficiência de um paciente, o eco do colapso das grandes narrativas. É o que nos possibilita ver, na apatia de um deprimido, não uma falha de vontade, mas uma greve de desejo contra um mundo que se tornou indigno de investimento. E é, finalmente, o que fundamenta a resistência psicanalítica: a aposta de que, mesmo em um mundo sem garantias, a escuta da palavra singular de cada sujeito ainda é a via mais potente para transformar a paralisia da vergonha na coragem de inventar um novo sentido para a existência.