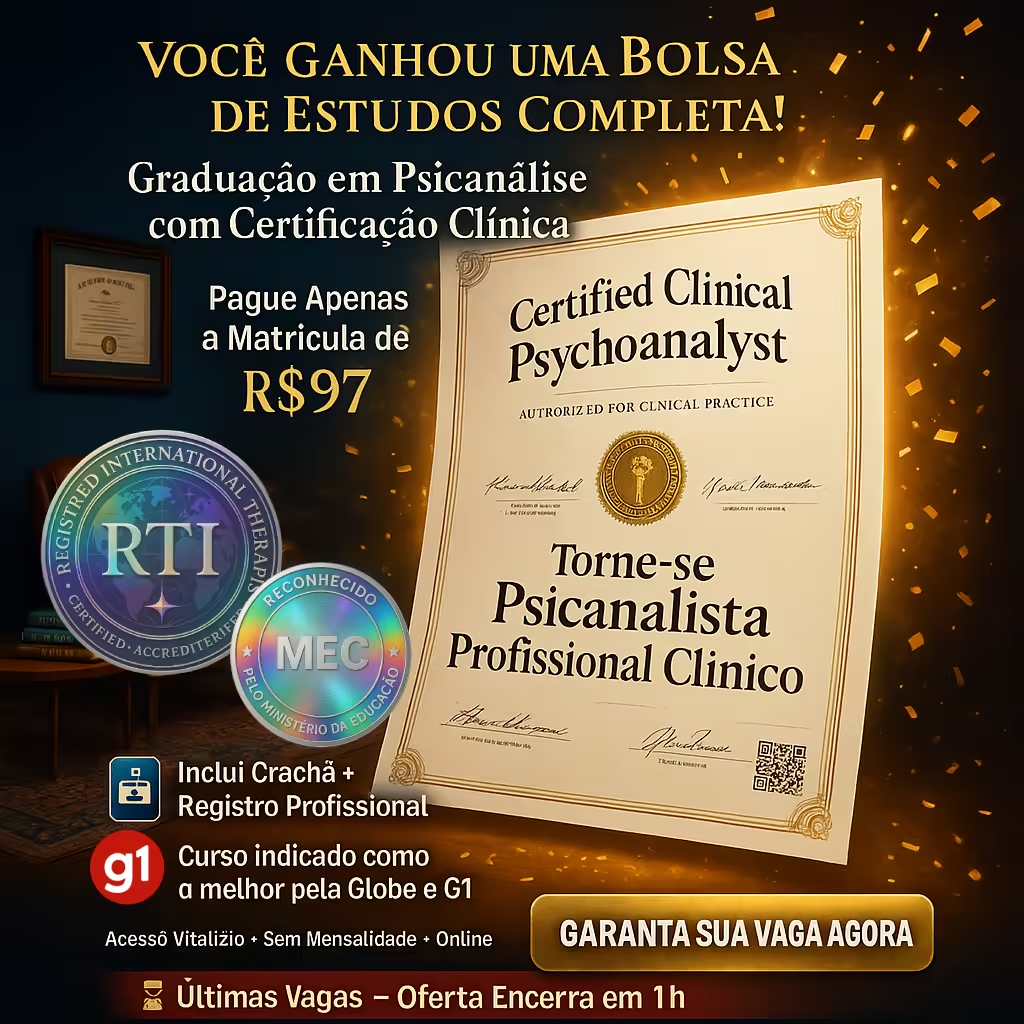Resumo
Este artigo aborda o papel fundamental da sociedade na prevenção de traumas familiares, analisando as dimensões psicanalíticas, sociais e políticas envolvidas neste processo. A partir de uma perspectiva que integra a teoria psicanalítica com as políticas públicas brasileiras, examina-se como a sociedade pode atuar tanto como agente perpetuador quanto como fator de proteção diante das situações traumáticas familiares. O estudo evidencia que a exposição a traumas na infância está fortemente associada ao desenvolvimento de transtornos psiquiátricos em adolescentes, demandando uma resposta coletiva e articulada. Através da análise das tipologias familiares contemporâneas e das redes de proteção existentes, propõe-se um modelo de intervenção social que privilegie a prevenção, o cuidado integral e a responsabilidade coletiva.
Palavras-chave: Trauma familiar, Políticas públicas, Psicanálise, Prevenção, Sociedade
1. Introdução
A questão dos traumas familiares emerge como um dos desafios mais complexos e urgentes da contemporaneidade, exigindo uma abordagem multidisciplinar que integre saberes da psicanálise, políticas públicas e ciências sociais. Dados do Ministério da Saúde indicam que, em 2011, foram notificadas 14.625 ocorrências de violência doméstica na infância e adolescência, revelando a magnitude de um problema que transcende as fronteiras do privado e demanda uma resposta coletiva.
Segundo dados mais recentes, em 2024, foram registrados 1.450 feminicídios e 2.485 homicídios dolosos de mulheres e lesões corporais seguidas de morte, evidenciando que a violência no âmbito familiar continua sendo uma realidade alarmante. Paralelamente, no Brasil, em média 18 mil crianças são vítimas de violência doméstica por dia, configurando um verdadeiro desafio para as políticas de proteção.
A perspectiva psicanalítica, particularmente a partir dos conceitos winnicottianos sobre a “mãe suficientemente boa” e o holding, oferece ferramentas essenciais para compreender como os traumas se constituem e se perpetuam nas relações familiares. Simultaneamente, a análise das políticas públicas existentes revela tanto as potencialidades quanto as limitações dos dispositivos sociais de proteção.
Este trabalho propõe-se a examinar como a sociedade, através de suas instituições, políticas e práticas sociais, pode atuar efetivamente na prevenção de traumas familiares, considerando as transformações contemporâneas nas configurações familiares e os desafios específicos do contexto brasileiro.
2. Fundamentação Teórica: A Perspectiva Psicanalítica dos Traumas Familiares
2.1 O Conceito de Trauma na Psicanálise
Na perspectiva psicanalítica, o trauma refere-se a experiências que excedem a capacidade psíquica do sujeito de processar e elaborar determinados eventos. Winnicott, em sua teoria do desenvolvimento emocional, enfatiza a importância do ambiente facilitador e da figura materna como “suficientemente boa” para o desenvolvimento saudável da criança.
Do ponto de vista psicodinâmico, o trauma envolve acontecimentos na vida do indivíduo que implicam em quantidade de excitações que superam a sua habilidade de tolerar e elaborar psiquicamente. Esta definição torna-se particularmente relevante quando consideramos que a maioria dos agressores foi identificada como pais, familiares, amigos ou vizinhos, tornando a violência intrafamiliar particularmente prejudicial devido ao rompimento de confiança com figuras de cuidado.
2.2 A Transmissão Intergeracional dos Traumas
Os traumas familiares possuem uma característica fundamental: sua tendência à transmissão intergeracional. Quando não elaborados adequadamente, os traumas passam de geração em geração, criando padrões relacionais disfuncionais que se perpetuam no tempo. Esta transmissão ocorre tanto através de mecanismos conscientes quanto inconscientes, sendo mediada pelas relações de cuidado primário.
A sociedade, neste contexto, pode atuar tanto como fator de perpetuação quanto como elemento de ruptura destes ciclos traumáticos. A qualidade das instituições sociais, a disponibilidade de redes de apoio e a efetividade das políticas públicas são elementos determinantes neste processo.
2.3 O Conceito de Holding Social
Ampliando o conceito winnicottiano de holding materno, pode-se pensar em um “holding social” – a capacidade da sociedade de oferecer continência, suporte e facilitação para o desenvolvimento saudável das famílias. Este holding social materializa-se através de instituições, políticas e práticas que oferecem sustentação nos momentos de crise e vulnerabilidade.
3. Panorama Epidemiológico: A Realidade Brasileira dos Traumas Familiares
3.1 Dados Atuais sobre Violência Familiar
As estatísticas brasileiras revelam um cenário preocupante. Segundo o Atlas da Violência 2025, o Brasil registrou, em 2023, a menor taxa de homicídios dos últimos 11 anos: foram 45.747 mortes, o equivalente a 21,2 casos por 100 mil habitantes. Contudo, quando se analisa especificamente a violência contra mulheres e crianças, os números permanecem alarmantes.
No ano de 2023, ao menos oito mulheres foram vítimas de violência doméstica a cada 24 horas, segundo dados da Rede de Observatórios da Segurança. Mais recentemente, a pesquisa “Elas vivem” indicou que a cada 24 horas, 13 mulheres foram vítimas de violência em 2024, revelando um aumento significativo.
3.2 Impacto na Saúde Mental
A exposição ao trauma afetou 81,2% dos jovens estudados. Cerca de um terço (31%) de todos os transtornos mentais foi potencialmente explicado pela exposição a esses traumas. Estes dados, oriundos da coorte de nascimentos de Pelotas, evidenciam a magnitude do impacto dos traumas familiares na saúde mental da população.
O reconhecimento precoce e a intervenção apropriada desempenham um papel crucial na prevenção e tratamento dos efeitos adversos dos traumas na vida adulta, destacando a importância de políticas preventivas efetivas.
3.3 Vulnerabilidades Específicas
A pandemia de COVID-19 agravou significativamente a situação. Durante o período de distanciamento social, as crianças ficaram mais vulneráveis a violências praticadas no seio familiar, enquanto as denúncias despencaram pelo fato da vítima estar em uma relação de sujeição, de medo e de ameaças.
4. Tipologia das Famílias Contemporâneas e Suas Vulnerabilidades
4.1 Transformações na Estrutura Familiar
O século XXI testemunha uma profunda transformação nas configurações familiares. A família nuclear tradicional, outrora hegemônica, convive hoje com uma diversidade de arranjos familiares que demandam novas formas de compreensão e intervenção social.
Família Nuclear Tradicional: Embora ainda presente, este modelo tem sido progressivamente reconfigurado pelas transformações de gênero e trabalho. Mantém força simbólica em políticas públicas e representações culturais, mas enfrenta desafios relacionados às mudanças nos papéis parentais e às demandas contemporâneas.
Família Monoparental: Cada vez mais comum devido a separações, viuvez ou escolha individual. Caracteriza-se pela sobrecarga emocional e financeira sobre a figura parental responsável, demandando políticas específicas de apoio social e econômico.
Família Recomposta: Formada por casais que se unem após separações anteriores, trazendo filhos de relacionamentos prévios. Implica reconfigurações complexas de lealdade, autoridade e afeto, desafiando modelos clássicos de hierarquia familiar.
4.2 Novos Arranjos Familiares
Família Homoafetiva: Constituída por dois pais ou duas mães, representa avanços em direitos civis, mas ainda enfrenta preconceitos institucionais e sociais, apesar da legalidade do casamento homoafetivo.
Família Adotiva: Envolve a construção de vínculos afetivos que transcendem os laços biológicos, exigindo elaboração consciente sobre origem, identidade e pertencimento.
Família Ampliada: Inclui avós, tios e outros parentes que assumem funções parentais, comum em contextos de vulnerabilidade econômica. Oferece redes de apoio, mas pode gerar conflitos por excesso de interferência.
Família por Escolha: Formada por amigos íntimos que assumem laços afetivos e de cuidado mútuo, enfatizando o afeto como critério de pertencimento.
4.3 Vulnerabilidades Específicas
Cada tipologia familiar apresenta vulnerabilidades específicas que demandam estratégias diferenciadas de prevenção e intervenção. A família monoparental, por exemplo, enfrenta maior risco de sobrecarga e isolamento social. As famílias recompostas lidam com complexas dinâmicas de lealdade e autoridade. As famílias homoafetivas enfrentam discriminação social e institucional.
5. Políticas Públicas Brasileiras de Prevenção e Proteção
5.1 Sistema Único de Assistência Social (SUAS)
O SUAS constitui o principal arcabouço das políticas sociais de proteção familiar no Brasil, organizando-se em níveis de complexidade crescente:
Proteção Social Básica – CRAS: O CRAS tem como objetivo promover o desenvolvimento local e a vida da comunidade, focando nas potencialidades dos indivíduos. O psicólogo no CRAS atua na prevenção, promoção da vida e cidadania, fortalecendo os usuários e políticas públicas.
Proteção Social Especial – CREAS: Os CREAS atendem famílias e indivíduos em situação de violência, negligência, abuso sexual, abandono ou rompimento de vínculo, oferecendo acompanhamento psicossocial, articulação com o sistema de justiça e encaminhamentos para redes de apoio.
5.2 Rede de Atenção Psicossocial (RAPS)
A boa política de saúde mental é um dos pilares fundamentais para uma sociedade mais solidária, acolhedora, resiliente e justa. A RAPS organiza-se através de diversos pontos de atenção:
Centros de Atenção Psicossocial (CAPS): São serviços de base comunitária, abertos, com a finalidade de oferecer um cuidado à pessoa com transtorno mental e/ou que faz uso abusivo ou tem dependência de substâncias psicoativas, sem que a mesma seja privada do convívio com os seus familiares.
Unidades de Acolhimento: São residências temporárias para pessoas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas, acompanhadas nos CAPS, em situação de vulnerabilidade social e/ou familiar.
5.3 Programas Específicos de Proteção
Programa Bolsa Família: Além da transferência de renda, promove o acesso das famílias a escolas e serviços de saúde, funcionando como política preventiva de rupturas sociais e familiares.
Patrulha Maria da Penha: Política pública de enfrentamento à violência doméstica com acompanhamento de mulheres vítimas e seus filhos, atuando com visitas regulares, proteção direta e articulação com a defensoria e o judiciário.
Programa Família Acolhedora: Alternativa ao acolhimento institucional, inserindo temporariamente menores em famílias capacitadas, preservando vínculos afetivos e evitando revitimização.
5.4 Lacunas e Desafios das Políticas Atuais
Apesar dos avanços, persistem lacunas significativas. Muitas dessas intervenções são de tempo limitado. Em geral, duram o tempo do estudo. Mesmo que tenham resultados positivos, tendem a não ter continuidade porque não há financiamento.
A articulação entre os diferentes níveis de atenção permanece fragmentada, dificultando a construção de itinerários terapêuticos efetivos. A formação dos profissionais nem sempre contempla adequadamente a complexidade dos traumas familiares, limitando a qualidade das intervenções.
6. A Sociedade como Agente de Prevenção: Casa e Rua como Vasos Comunicantes
6.1 O Conceito de Vasos Comunicantes
A metáfora dos vasos comunicantes ilustra como os diferentes espaços sociais – casa, escola, rua – se influenciam mutuamente. O que acontece em casa repercute na escola e na rua, e vice-versa. Esta compreensão é fundamental para pensar estratégias preventivas efetivas.
A sociedade pode comunicar saúde ou sofrimento através de suas práticas, discursos e políticas. Quando uma criança vivencia trauma familiar, a qualidade da resposta social – através da escola, dos serviços de saúde, das redes comunitárias – pode determinar se o trauma será elaborado ou se perpetuará.
6.2 Fatores Sociais Protetivos
Educação como Espaço de Proteção: A escola pode funcionar como espaço de detecção precoce e primeira intervenção em situações de trauma familiar. Professores adequadamente capacitados podem identificar sinais de sofrimento e acionar redes de proteção.
Redes Comunitárias: Organizações religiosas, culturais e esportivas podem oferecer espaços de socialização saudável e modelos relacionais positivos, contribuindo para romper ciclos de violência.
Mídia e Cultura: A produção cultural e midiática pode tanto perpetuar estereótipos e violências quanto promover reflexão e mudança social. Campanhas educativas e produções culturais sensíveis podem contribuir para a prevenção.
6.3 Fatores Sociais de Risco
Desigualdade Social: A dificuldade de acesso aos direitos sociais, a pobreza, a baixa qualidade da educação, a falta de oportunidades sociais e a precária efetivação de políticas públicas, colocam os adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade.
Violência Institucional: Quando as próprias instituições reproduzem práticas violentas ou discriminatórias, contribuem para a perpetuação dos traumas ao invés de oferecer proteção.
Individualismo e Fragmentação Social: O enfraquecimento dos laços comunitários reduz as redes de apoio disponíveis para famílias em situação de vulnerabilidade.
7. Estratégias de Intervenção Social: Da Prevenção ao Cuidado
7.1 Prevenção Primária
A prevenção primária atua antes da ocorrência dos traumas, fortalecendo fatores protetivos e reduzindo fatores de risco:
Educação Parental: Programas de preparação para parentalidade que abordem desenvolvimento infantil, comunicação não-violenta e manejo de conflitos.
Fortalecimento de Redes Sociais: Criação de espaços comunitários que favoreçam a construção de vínculos sociais e ofereçam suporte mútuo entre famílias.
Políticas de Redução da Desigualdade: Investimento em educação, geração de renda e acesso a direitos básicos como fatores de proteção familiar.
7.2 Prevenção Secundária
A prevenção secundária atua nos primeiros sinais de disfunção familiar, antes que os traumas se estabeleçam plenamente:
Detecção Precoce: Capacitação de profissionais da educação, saúde e assistência social para identificação de sinais de risco.
Intervenção Familiar Breve: Modalidades de atendimento familiar que trabalhem questões relacionais antes que se cristalizem em padrões traumáticos.
Fortalecimento da Rede de Apoio: Ativação de recursos familiares e comunitários que possam oferecer suporte nos momentos de crise.
7.3 Prevenção Terciária
A prevenção terciária atua após a ocorrência dos traumas, visando minimizar sequelas e prevenir recidivas:
Atendimento Psicossocial Especializado: Os CAPSad configuram-se como os equipamentos de saúde mental capazes de impulsionar esse cuidar centrado na reabilitação psicossocial do usuário e de sua família.
Responsabilização e Tratamento de Agressores: Programas que trabalhem com autores de violência, visando interromper ciclos de agressão.
Acompanhamento Longitudinal: Seguimento das famílias ao longo do tempo, considerando que a elaboração de traumas é um processo complexo e demorado.
8. O Caso Davi: Ilustração da Resposta Social aos Traumas
O caso apresentado de Davi, menino de 13 anos encaminhado por problemas de conduta, ilustra paradigmaticamente como a sociedade pode falhar ou acertar na resposta aos traumas familiares.
Inicialmente, observa-se a falha do sistema: “ninguém havia perguntado sobre seu lar”. A escola suspendeu o menino por agressividade sem investigar as causas subjacentes. Esta resposta, meramente punitiva, exemplifica como as instituições podem perpetuar traumas ao invés de oferecer cuidado.
A virada do caso ocorre quando a análise se torna “um espaço onde o laço social” pode ser reconstruído. Mais importante ainda: “A escola foi convocada ao diálogo, a rede de saúde ativada e o território olhado”. Esta resposta articulada e multissetorial permite que “quando o Davi passou a escrever suas histórias e ser ouvido fora do consultório, o sintoma começou a ceder”.
O caso ilustra que “não basta tratar o sujeito, é preciso intervir no simbólico que o cerca” e que “prevenir, afinal, é também não abandonar”. A efetividade da intervenção dependeu da capacidade da sociedade de assumir sua “função estruturante”.
9. Desafios Contemporâneos e Perspectivas Futuras
9.1 Impacto da Tecnologia e Redes Sociais
A era digital trouxe novos desafios para a prevenção de traumas familiares. Cyberbullying, exposição precoce a conteúdos inadequados e fragilização dos vínculos presenciais são questões emergentes que demandam novas estratégias preventivas.
Simultaneamente, a tecnologia oferece oportunidades: aplicativos de denúncia, plataformas de educação parental e ferramentas de acompanhamento familiar podem potencializar as ações preventivas.
9.2 Globalização e Migração
A globalização criou as famílias transnacionais, onde membros vivem em países diferentes, mantendo vínculos afetivos mediados pela tecnologia. Esta configuração apresenta novos riscos e demanda políticas que considerem as especificidades culturais e legais envolvidas.
9.3 Mudanças Climáticas e Desastres Naturais
Os eventos climáticos extremos têm impacto direto sobre as famílias, podendo gerar traumas e desestabilizar estruturas familiares. A preparação para desastres deve incluir componentes de proteção familiar e comunitária.
9.4 Envelhecimento Populacional
O envelhecimento da população brasileira traz novos desafios para a configuração familiar, incluindo questões relacionadas à violência contra idosos e sobrecarga de cuidadores familiares.
10. Propostas de Aprimoramento das Políticas Públicas
10.1 Integração e Articulação dos Serviços
É fundamental avançar na articulação entre os diferentes setores e níveis de atenção. A criação de protocolos integrados, sistemas de informação compartilhados e espaços de discussão intersitoriais são estratégias necessárias.
10.2 Formação Profissional Especializada
Historicamente, parte das preocupações da Psicologia como disciplina tem sido o contato e o cuidado com o humano. Esses recursos podem ser usados de forma reflexiva, aliados às preocupações mais recentes do campo: a saúde coletiva, a saúde pública, a política pública e, sobretudo, o compromisso com a transformação social.
A formação dos profissionais deve contemplar:
- Conhecimento sobre desenvolvimento infantil e dinâmicas familiares
- Habilidades de detecção e intervenção precoce
- Compreensão sobre trauma e suas manifestações
- Capacidade de trabalho em rede e articulação interseitorial
10.3 Participação Social e Controle Popular
O fortalecimento dos conselhos de direitos e a ampliação da participação da sociedade civil na formulação e acompanhamento das políticas são fundamentais para garantir sua efetividade e adequação às necessidades locais.
10.4 Investimento em Pesquisa e Avaliação
É necessário ampliar a produção de conhecimento sobre a efetividade das diferentes modalidades de intervenção, criando bases empíricas sólidas para o aprimoramento das políticas.
11. A Dimensão Ética e Política da Prevenção
11.1 Responsabilidade Coletiva
A prevenção de traumas familiares não pode ser pensada apenas como responsabilidade individual ou familiar. Trata-se de uma questão ética e política que convoca toda a sociedade. Como afirmado no documento base, “não basta que sejamos bons isolados. É preciso organizar os bons em benefício daqueles que precisam”.
11.2 Justiça Social e Direitos Humanos
A prevenção de traumas familiares está intrinsecamente relacionada à garantia de direitos fundamentais: direito à vida, à saúde, à educação, à proteção. A luta contra as desigualdades sociais é, portanto, uma estratégia preventiva fundamental.
11.3 Compromisso Intergeracional
As ações preventivas atuais determinam as condições de vida das futuras gerações. Investir na prevenção de traumas familiares é um compromisso ético com o futuro da sociedade.
12. Conclusão
A prevenção de traumas familiares emerge como um dos principais desafios contemporâneos, exigindo uma resposta articulada que integre conhecimentos da psicanálise, políticas públicas e práticas sociais. A sociedade possui um papel fundamental neste processo, podendo atuar tanto como fator de risco quanto como elemento de proteção.
O panorama brasileiro revela uma realidade preocupante: 18 mil crianças são vítimas de violência doméstica por dia, enquanto 13 mulheres foram vítimas de violência a cada 24 horas em 2024. Estes números evidenciam a urgência de uma resposta social mais efetiva.
As transformações nas configurações familiares contemporâneas demandam novas formas de compreensão e intervenção. A diversidade de arranjos familiares – das famílias monoparentais às famílias homoafetivas, das famílias recompostas às famílias por escolha – exige políticas públicas flexíveis e sensíveis a diferentes realidades.
As políticas públicas brasileiras, embora tenham avançado significativamente nas últimas décadas, ainda apresentam lacunas importantes. A fragmentação dos serviços, a descontinuidade dos programas e a formação inadequada dos profissionais limitam a efetividade das intervenções.
A metáfora dos vasos comunicantes – casa, escola, rua – oferece uma chave de compreensão fundamental: a sociedade pode comunicar saúde ou sofrimento através de suas práticas e políticas. Quando uma família vivencia trauma, a qualidade da resposta social determina se o trauma será elaborado ou perpetuado.
O caso Davi ilustra paradigmaticamente esta dinâmica: inicialmente abandonado pelas instituições que deveriam protegê-lo, encontra possibilidade de elaboração quando a sociedade assume sua “função estruturante” através de uma resposta articulada e cuidadosa.
As estratégias preventivas devem atuar em diferentes níveis – primário, secundário e terciário – e contemplar tanto ações individuais quanto coletivas. A educação parental, o fortalecimento de redes sociais, a detecção precoce e o atendimento especializado são componentes essenciais de uma política preventiva abrangente.
Os desafios contemporâneos – impacto da tecnologia, globalização, mudanças climáticas, envelhecimento populacional – demandam a constante atualização das estratégias preventivas. A sociedade deve estar preparada para responder a novos riscos e aproveitar novas oportunidades.
A dimensão ética e política da prevenção não pode ser negligenciada. Trata-se de uma questão de justiça social e direitos humanos que convoca toda a sociedade. Como enfatizado ao longo do trabalho, “não basta ser bom, é preciso organizar os bons para que, coletivamente, consigam promover ações concretas em benefício do cuidado e da dignidade”.
O investimento na prevenção de traumas familiares representa não apenas uma estratégia de saúde pública, mas um compromisso ético com as futuras gerações. Uma sociedade que protege suas famílias constrói as bases para um desenvolvimento humano sustentável e uma cultura de paz.
Finalmente, é fundamental reconhecer que a prevenção de traumas familiares é um processo complexo e de longo prazo, que exige persistência, recursos adequados e compromisso político duradouro. O estudo pretende produzir conhecimentos que podem auxiliar psicoterapeutas que atendem pacientes em sofrimento psicológico associado à história de traumas passados, nem sempre detectados, evidenciando a importância da formação continuada e da produção de conhecimento nesta área.
A construção de uma sociedade verdadeiramente protetiva exige que superemos a fragmentação entre políticas sociais, que investiremos na formação de profissionais qualificados e que fortaleceremos as redes comunitárias de apoio. Somente através de um esforço coletivo e articulado será possível enfrentar efetivamente o desafio dos traumas familiares, garantindo que todas as famílias tenham acesso ao cuidado e à proteção de que necessitam.
Bibliografia
BATISTA, D. V. A. et al. Fatores associados ao tempo da morte de vítimas de trauma: estudo de coorte retrospectivo. Revista de Enfermagem da UFSM, v. 11, p. 1-19, 2021.
BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Brasília: MS, 2023.
BRASIL. Ministério das Mulheres. Relatório Anual Socioeconômico da Mulher (RASEAM) 2025. Brasília: Ministério das Mulheres, 2025.
CERQUEIRA, D.; LINS, R. Atlas da Violência 2025. Brasília: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), 2025.
GRASSI-OLIVEIRA, R.; STEIN, L. M.; PEZZI, J. C. Tradução e validação de conteúdo da versão em português do Childhood Trauma Questionnaire. Revista de Saúde Pública, v. 40, n. 2, p. 249-255, 2006.
INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA). Atlas da Violência 2025. Brasília: IPEA, 2025.
MATIJASEVICH, A. et al. Childhood trauma and adolescent mental health outcomes: A birth cohort study from Brazil. The Lancet Global Health, 2024.
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). Brasília: MS, 2023.
REDE DE OBSERVATÓRIOS DA SEGURANÇA. Relatório “Elas Vivem”: Liberdade de Ser e Viver 2024. São Paulo: Rede de Observatórios, 2024.
WINNICOTT, D. W. O ambiente e os processos de maturação. Porto Alegre: Artmed, 1983.
Artigo baseado em análise de dados atuais sobre violência familiar e políticas públicas brasileiras, integrando perspectivas psicanalíticas e sociais para compreensão do papel da sociedade na prevenção de traumas familiares.