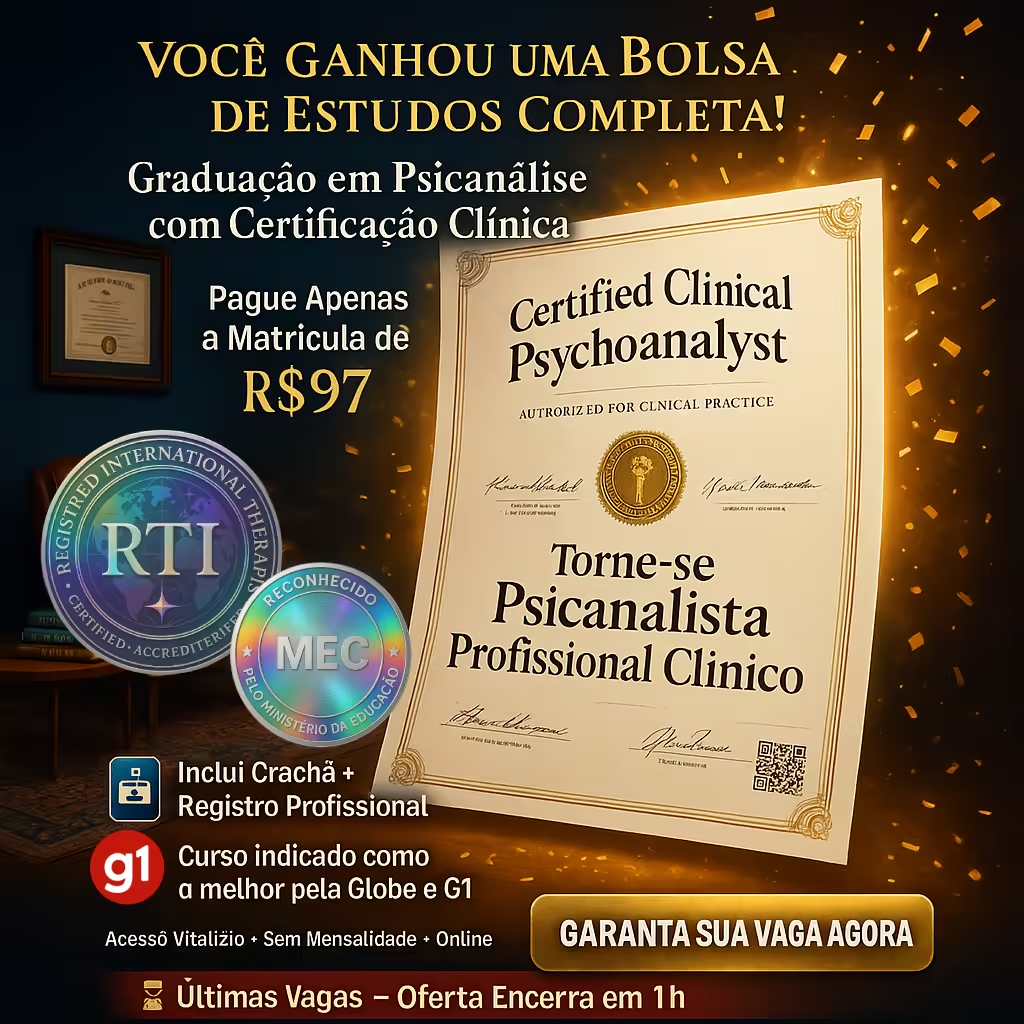Após assentar os fundamentos do TDAH, seu diálogo com a psicanálise e as nuances do desenvolvimento infantil, chegamos a um ponto de virada, a uma “revolução de paradigmas” que constitui talvez o gesto mais radical e necessário da abordagem psicanalítica: o deslocamento do foco do indivíduo para a família. A tese que guia este capítulo é tão contundente quanto libertadora: é impossível compreender ou tratar o sintoma da criança sem implicar a estrutura que o produz e, muitas vezes, o sustenta. O consultório, a escola e a sociedade tendem a isolar a criança, a tratá-la como um universo fechado, uma ilha de disfunção neurológica. A psicanálise, contudo, nos convida a ver essa ilha como a ponta de um vasto continente submerso: o ecossistema familiar.
Este artigo propõe-se a mergulhar nessas águas profundas para explorar a dinâmica familiar a partir de três eixos centrais. Primeiro, desvendaremos o conceito do “paciente identificado”, compreendendo o sintoma não como uma falha individual, mas como o termômetro de um sistema. Em segundo lugar, reposicionaremos o papel dos pais, movendo-os do lugar de meros “educadores” para o de exercendores de funções simbólicas cruciais para a estruturação psíquica. E, por fim, realizaremos uma “arqueologia” das heranças geracionais, revelando como padrões e lealdades invisíveis, transmitidos através do tempo, podem se manifestar na agitação e na desatenção da criança de hoje. O objetivo é claro: mostrar que quando uma criança adoece psiquicamente, é toda uma “constelação familiar que está pedindo socorro”.
O Paciente Identificado: O Sintoma como Termômetro do Ecossistema Familiar
A psicanálise, em diálogo com a teoria sistêmica, nos ensina que o “paciente identificado” — aquele que carrega o diagnóstico — raramente é a única fonte do sofrimento. Pelo contrário, ele é frequentemente o membro mais sensível do sistema, aquele que, por meio de seu corpo e de seu comportamento, se torna o porta-voz das angústias e conflitos não ditos do grupo. O sintoma da criança, portanto, funciona como um termômetro do ecossistema familiar. Uma febre alta na criança pode indicar uma infecção oculta no corpo familiar.
Nesta perspectiva, a criança emerge como uma “intérprete corajosa”. De forma inconsciente, ela dramatiza as verdades silenciadas no núcleo familiar. A hiperatividade incessante pode ser a encenação de uma ansiedade parental não confessada; a desatenção profunda pode ser o espelho de um vazio afetivo ou de uma desconexão entre o casal. Seus sintomas, como afirma a metáfora do curso, são “cartas não enviadas de um sistema familiar em colapso”. Ao tratar a criança como um “universo isolado”, a prática clínica tradicional corre o risco de ler apenas o envelope, ignorando a mensagem urgente que está contida nele.
Esta leitura se torna ainda mais crucial quando consideramos o choque, destacado no curso, entre o “tempo natural da infância” — caracterizado pelo devaneio, pela brincadeira, pela lentidão do descobrir — e o “tempo produtivo” imposto pela nossa era. A criança que é transformada em um “mini-executivo”, com uma agenda programática desde o berço, vive um conflito fundamental. Sua recusa em se adaptar, sua agitação e sua dispersão podem não ser um déficit, mas uma resistência saudável, uma denúncia corporal contra a supressão de sua própria infância. Ela se torna, assim, o termômetro não apenas de sua família, mas de um mal-estar cultural mais amplo.
O Reposicionamento dos Pais: Para Além da Disciplina, as Funções Simbólicas
Se o sintoma está no sistema, o papel dos pais precisa ser radicalmente reposicionado. A visão que os reduz a meros “educadores”, focados em disciplina, controle e adestramento de comportamento, é insuficiente e muitas vezes iatrogênica. A psicanálise os convida a ocupar um lugar muito mais estruturante: o de exercendores de funções simbólicas.
- A Função de Continência (Holding): Mais do que controlar a angústia da criança, a função primordial dos cuidadores é a de acolher e conter essa angústia. Trata-se da capacidade de receber as emoções brutas da criança (raiva, medo, frustração), tolerá-las sem se desorganizar e devolvê-las a ela de uma forma “digerida”, nomeada, e portanto, menos assustadora. Uma criança cuja agitação ansiosa é constantemente recebida com irritação e controle, em vez de acolhimento, nunca aprende a metabolizar seus próprios afetos. Sua desorganização interna apenas ecoa a falha de continência do ambiente.
- A Função de Limite e Estruturação: A outra função simbólica crucial é a de estabelecer limites claros, consistentes e verdadeiros, que funcionem como uma “pele” psíquica para a criança, estruturando sua percepção da realidade. Não se trata de um autoritarismo punitivo, mas da sustentação de uma lei simbólica que oferece segurança e previsibilidade. Pais que, por suas próprias histórias e dificuldades, são inconsistentes, permissivos ou excessivamente rígidos, falham em oferecer esse contorno. A impulsividade da criança pode ser, então, uma busca desesperada por um “não” que a organize, por uma parede que a impeça de se perder em um mundo sem bordas.
Escavar as heranças psíquicas dos próprios pais é imperativo, pois elas “moldam as capacidades parentais de acolhimento e estabelecimento de limites”. Um pai que não foi contido em sua própria infância terá imensa dificuldade em conter seu filho.
A Arqueologia da Herança: Lealdades Invisíveis e o Legado Transgeracional
Este é talvez o mergulho mais profundo que a psicanálise propõe. A família não começa com os pais; ela é um longo rio que carrega as águas de gerações passadas. Ferramentas como o genograma nos permitem realizar uma “arqueologia” dessa dinâmica, revelando “padrões e lealdades invisíveis que atravessam gerações”.
A transmissão geracional de traumas não elaborados é um fato clínico. Segredos de família, lutos não vividos, fracassos humilhantes, violências silenciadas — tudo isso não desaparece. Esse material psíquico tóxico é transmitido de forma inconsciente, como um “legado”, e a criança, como o elo mais novo da corrente, pode ser encarregada de “resolver” ou “encenar” o que seus antepassados não conseguiram. Sua “falha” em aprender na escola pode ser um ato de lealdade invisível a um avô que foi forçado a abandonar os estudos. Sua agitação pode ser a manifestação de uma ansiedade que pertence, originalmente, a uma avó que viveu em tempos de guerra.
Os mitos, como aponta o curso, são “radiografias brutais” dessas estruturas. A rivalidade fraterna de Caim e Abel, o pai (Cronos) que devora seus filhos por medo de ser suplantado — essas narrativas ancestrais continuam a se repetir, com precisão “cirúrgica e assustadora”, nos consultórios de hoje. O sintoma da criança carrega, em seu núcleo, “as marcas dessas dinâmicas ancestrais que insistem em se perpetuar”.
Rumo à Transformação: Compreendendo a Função do Sintoma na Trama Relacional
A proposta terapêutica que emerge desta visão é clara. O objetivo não é eliminar o sintoma da criança a qualquer custo, mas compreender sua função na trama relacional da família. Como nos ensina Beatriz Janin, a agitação pode ser uma “produção subjetiva inteligente”, uma solução criativa que a criança desenvolve para se defender de angústias que não consegue nomear — angústias que, como vimos, são frequentemente de origem familiar.
O trabalho clínico, portanto, deve envolver a família. Ao ajudar os pais a escavarem suas próprias heranças, a tomarem consciência dos roteiros que repetem e a compreenderem o que o sintoma de seu filho está comunicando sobre eles, uma transformação se torna possível. Quando a “carta não enviada” é finalmente lida e seu conteúdo pode ser falado abertamente no ambiente familiar, o sintoma da criança, como mensageiro, muitas vezes perde sua função. A energia antes consumida em manter o equilíbrio precário do sistema pode, então, ser liberada para o desenvolvimento e a criatividade.
Conclusão: Uma Constelação em Busca de um Novo Rumo
O deslocamento do foco da criança para o ecossistema familiar é um ato de coragem clínica e de profunda compaixão. Ele nos liberta da visão simplista e culpabilizante que isola a criança como o “problema”, e nos abre para a complexa e fascinante teia de relações que a constitui. Ele nos ensina que toda família infeliz é “infeliz à sua maneira”, e que nosso trabalho é entender essa singularidade.
A imagem final é a mais poderosa: quando uma criança apresenta um sofrimento psíquico intenso, não estamos diante de uma estrela defeituosa, mas de “toda uma constelação familiar que está pedindo socorro”. A terapia, nesta perspectiva, deixa de ser o conserto de uma única estrela para se tornar a arte de ajudar a constelação inteira a encontrar uma nova órbita, mais harmoniosa e verdadeira. Olhar para a família não é buscar culpados, mas sim libertar todos os seus membros — inclusive e especialmente a criança — dos roteiros herdados, permitindo que eles se tornem, finalmente, os autores de suas próprias e novas histórias.