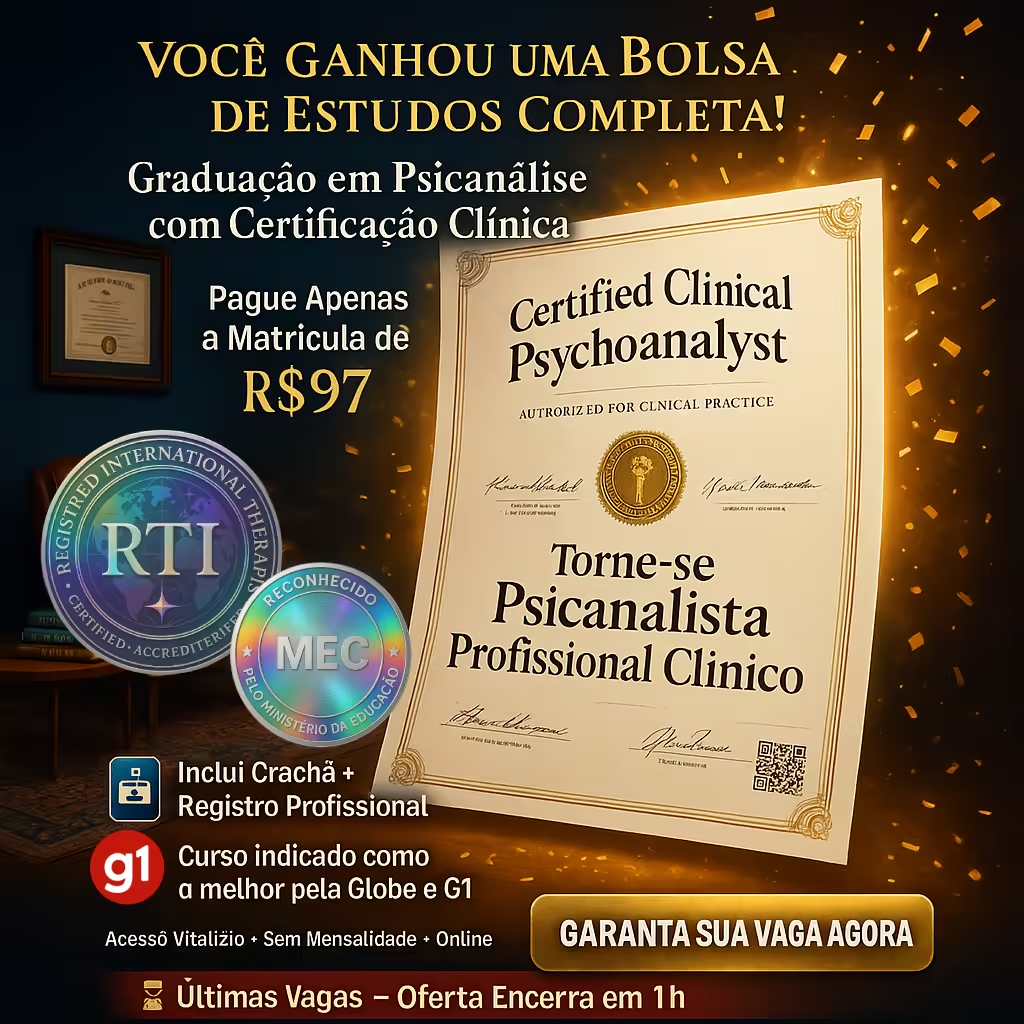Resumo
O presente artigo explora as novas formas de sofrimento psíquico no ambiente de trabalho contemporâneo a partir de uma perspectiva psicanalítica. Investigamos como a lógica neoliberal, com sua ênfase na performance ilimitada e na flexibilidade constante, corrói as fronteiras entre a vida pessoal e profissional, resultando em patologias como a Síndrome de Burnout. O artigo está dividido em duas seções principais. A primeira aborda o burnout como uma “implosão dos limites da empresa”, analisando o colapso da função paterna simbólica, a emergência de um “super-ego corporativo” tirânico e o protesto do corpo como última trincheira da subjetividade. A segunda seção aprofunda a relação entre o neoliberalismo e o “narcisismo da performance”, discutindo conceitos como o gozo da autovigilância e a “subjetividade flexível”, que transformam o indivíduo em uma empresa de si mesmo (“Eu S.A.”). Através de diálogos com a literatura, a arte e a filosofia, buscamos demonstrar que o sofrimento no trabalho não é um fracasso individual, mas um sintoma de uma civilização que mercantilizou a alma e transformou a exaustão em virtude.
Palavras-chave: Psicanálise, Trabalho, Burnout, Neoliberalismo, Narcisismo, Subjetividade, Super-ego Corporativo.
Introdução
Os consultórios de psicanálise e as clínicas de saúde mental tornaram-se o palco de um drama silencioso e epidêmico da contemporaneidade: o sofrimento derivado do trabalho. Pacientes não chegam mais apenas com as neuroses clássicas descritas por Freud; chegam despedaçados, exaustos, com corpos que gritam por meio de sintomas psicossomáticos, ansiedade que rouba o sono e um pânico que irrompe ao som da notificação de um e-mail corporativo às 23 horas. Este fenômeno, frequentemente diagnosticado como Síndrome de Burnout, transcende a noção de um simples esgotamento profissional. Ele é, na verdade, o sintoma visível de uma profunda transformação nas estruturas do trabalho e na própria constituição da subjetividade, impulsionada pela lógica onipresente do neoliberalismo.
Como nos alerta a aula, estamos diante de uma geração que “transformou a exaustão em virtude e o esgotamento em medalha de honra”. Este artigo visa aprofundar essa constatação, utilizando as ferramentas da psicanálise para desvelar as dinâmicas inconscientes que sustentam essa nova servidão voluntária. Argumentamos que o trabalho contemporâneo, ao abolir os limites e promover um ideal de performance infinita, ataca diretamente as estruturas psíquicas que nos protegem, gerando um ciclo vicioso de produtividade, culpa e adoecimento. Analisaremos, portanto, como o burnout representa a implosão das fronteiras e como o narcisismo da performance se tornou o modo de sobrevivência e, paradoxalmente, de adoecimento, em nossa era.
Capítulo 1: Burnout – A Implosão dos Limites da Empresa
O burnout não é meramente cansaço; é um colapso. É a experiência de ter ido além de todos os limites físicos, emocionais e psíquicos. A análise psicanalítica nos permite compreender este fenômeno não como uma falha do trabalhador, mas como a consequência lógica de um sistema que aboliu a própria noção de limite.
O Colapso da Função Paterna Simbólica
Na teoria psicanalítica, a “função paterna” é a instância simbólica que introduz a lei, a ordem e, fundamentalmente, o limite. Ela é o que nos ensina que não se pode ter tudo, que o gozo absoluto é impossível e que o desejo se estrutura em torno de uma falta. No mundo corporativo tradicional, essa função era exercida, ainda que de forma imperfeita, por estruturas claras: horários de trabalho definidos, separação física entre casa e escritório, papéis hierárquicos estáveis e a própria finitude das tarefas.
O ambiente de trabalho contemporâneo, marcado pela lógica do “24 por 7” e pelas metas ilimitadas do jornalismo digital ou das startups de tecnologia, promoveu a dissolução dessa função. A ausência de um “não” simbólico, de uma autoridade que proteja o trabalhador de sua própria pulsão produtiva, torna o trabalho uma empreitada infinita e insuportável. Como visto no exemplo da “Grande Demissão” nos Estados Unidos, a recusa em massa de continuar nesse ciclo pode ser interpretada como um protesto desesperado de um corpo coletivo contra a ausência dessa proteção simbólica, tornando a exaustão crônica intolerável.
O Super-ego Corporativo e a Tirania das Metas Ilimitadas
Com o vácuo deixado pela função paterna, emerge uma nova e ainda mais cruel instância psíquica: o “super-ego corporativo”. Este não é o super-ego freudiano clássico, que deriva da internalização das proibições parentais, mas um super-ego difuso, um “inconsciente coletivo patronal e gerencial” que coloniza o psiquismo do trabalhador. Sua principal injunção não é “você não deve”, mas sim “você deve sempre mais”.
Essa lógica de metas massacrantes e ilimitadas transforma o descanso em um ato de culpa. A tela do computador acesa na madrugada não é apenas uma ferramenta de trabalho; ela se torna, como mencionado na aula, um “espelho da alma fragmentada”, um altar onde a existência é sacrificada em nome da produtividade. O super-ego corporativo é sádico: ele exige o impossível e, diante do fracasso inevitável do trabalhador em atingir o infinito, responde com sentimentos de inadequação, ansiedade e culpa, alimentando o ciclo do burnout.
O Protesto do Corpo: A Última Fronteira do Inconsciente
Quando a linguagem falha e o simbólico se desfaz, o corpo fala. Os sintomas que vemos na clínica – a ansiedade paralisante, o pânico, as doenças psicossomáticas – são o “grito do inconsciente”. Eles representam a última fronteira de resistência de uma subjetividade sitiada. O corpo, em sua sabedoria, se recusa a continuar. Ele protesta contra a invasão da alma pela empresa, contra a transformação da casa em uma extensão do escritório.
Nesse contexto, a icônica frase de Bartleby, o escrivão de Herman Melville – “Eu preferiria não fazer” (I would prefer not to) – ecoa como a mais potente e subversiva declaração de resistência. Não é uma recusa argumentativa, mas uma negação pura, um basta, a última trincheira da subjetividade contra a tirania produtiva. O burnout, com seus sintomas incapacitantes, é a versão trágica e involuntária do “preferiria não fazer” de Bartleby, um colapso que força a parada que o sujeito não conseguiu se autorizar a fazer. O diálogo cultural se amplia com o Mito de Sísifo, que personifica o trabalhador moderno condenado à repetição sem sentido de metas infindáveis, e o Bolero de Ravel, cujo crescendo hipnótico e inexorável espelha a aceleração produtiva que nos conduz ao colapso final.
Capítulo 2: Neoliberalismo e o Narcisismo da Performance
Se o burnout é o sintoma, a ideologia neoliberal é o contexto que o produz. O neoliberalismo não é apenas um sistema econômico; é uma racionalidade que governa todas as esferas da vida, inclusive a mais íntima, transformando o sujeito em um “empresário de si mesmo”.
O Narcisismo do Rendimento e a Utopia do “Eu S.A.”
A cultura contemporânea, exemplificada pela ascensão dos influenciadores digitais e pela lógica das redes sociais, promove o que podemos chamar de “narcisismo do rendimento”. Nesse modelo, o valor de um sujeito não reside em sua essência ou em suas qualidades intrínsecas, mas é medido por métricas de performance: engajamento, número de seguidores, likes, produtividade. A autoimagem torna-se um produto a ser monetizado, e a vida, uma performance incessante em busca de validação externa.
Essa é a utopia do “Eu S.A.” (Eu, Sociedade Anônima), onde cada indivíduo é convocado a se tornar uma marca, a otimizar seu “capital humano” e a gerenciar suas competências para ser competitivo no mercado. A figura de Gatsby, de F. Scott Fitzgerald, personifica esse drama: um homem que constrói uma fachada de sucesso e performance para obter validação externa, mas que, por dentro, é consumido por um profundo vazio existencial. Como os Gatsbys que chegam aos consultórios, os sujeitos contemporâneos, vestidos de sucesso, sussurram no divã sobre um vazio que nenhuma conquista consegue preencher.
O Gozo da Autovigilância e a Subjetividade Flexível
Essa performance constante é mantida por um mecanismo psíquico paradoxal: o “gozo da autovigilância”. Há uma satisfação paradoxal, um gozo no sentido lacaniano (um prazer que inclui dor), em se submeter a um escrutínio constante para manter a performance em alta. É o prazer de otimizar a rotina, monitorar os resultados, aplicar tutoriais para “melhorar a performance”, como os algoritmos do TikTok e Instagram nos incentivam a fazer. Esse ciclo aprisiona o sujeito em uma autoexigência tirânica.
Para sobreviver nesse sistema, exige-se uma “subjetividade flexível”. O indivíduo deve ser polivalente, adaptável, pronto para se reinventar a cada nova demanda do mercado. A identidade se fragiliza, perde-se uma essência mais sólida em detrimento de uma maleabilidade constante, mascarada como autonomia e proatividade. Programas de trainee com desafios de alto impacto são o exemplo perfeito: a competição é exacerbada e o desejo da juventude é capturado por uma promessa de ascensão, ao preço da própria identidade e saúde emocional.
A Clínica na Era Digital: A Síndrome do Espelho Digital
A clínica psicanalítica contemporânea se tornou, como afirmado na aula, uma “trincheira contra uma sociedade que transformou a performance em religião e o like em eucaristia”. Os analistas testemunham o nascimento de uma nova patologia: a “síndrome do espelho digital”. Os consultórios recebem sujeitos fragmentados, presos em um looping infinito de si mesmos, buscando no olhar do outro (traduzido em likes e comentários) uma validação que jamais satisfaz plenamente, pois não se conecta com um desejo autêntico. Essa “melancolia narcísica” corrói a capacidade humana de se encontrar verdadeiramente consigo mesmo e com o outro.
Conclusão: Os Coveiros Involuntários de uma Sociedade Doente
O percurso realizado neste artigo, guiado pela aula sobre Psicanálise e Trabalho, nos leva a uma conclusão incontornável: o burnout, a ansiedade de desempenho e o vazio existencial não são distúrbios pessoais ou fracassos individuais. Eles são “o retorno do recalcado de um sistema que transforma seres humanos em máquinas produtivas descartáveis”. São o sintoma de uma civilização doente, que adoece seus filhos no altar do lucro e da performance.
A psicanálise, nesse cenário, tem um papel crucial. Ela não pode se limitar a tratar indivíduos isoladamente, a “consertá-los” para que retornem à máquina produtiva. Sua tarefa é também a de diagnosticar o mal-estar na cultura, de nomear as forças que mercantilizam a subjetividade e de oferecer um espaço de escuta onde o sujeito possa se reconectar com seu desejo singular, para além das métricas e das demandas do super-ego corporativo.
Os profissionais de saúde mental, como provocado na aula, devem reconhecer que, ao tratar essas feridas, estão testemunhando a falência de um modelo civilizatório. Somos chamados a não sermos “os coveiros involuntários de uma sociedade que mata seus próprios filhos”, mas sim agentes de uma crítica radical que, ao escutar o sofrimento individual, aponta para a necessidade de uma transformação coletiva nas formas como vivemos, nos relacionamos e, fundamentalmente, trabalhamos. O grito silencioso de Bartleby precisa ser ouvido não como um sintoma a ser curado, mas como um chamado à resistência e à invenção de novos modos de existência.